Diário de Berkeley
A Inês Pedrosa esteve aqui em Berkeley e escreveu esta crónica sobre a cidade e a universidade. Não sou assim um grande fã dela e não concordo necessariamente com mto do que ela escreve nesta crónica, mas há algumas passagens que retratam mto bem algumas das facetas curiosas desta cidade. Nomeadamente, o grande numero de "malucos" (alguns, não são bem malucos, mais "deslocados" que outra coisa) que por aí vagueia a falar com as árvores ou a rir-se do vento...
Diários de Berkeley, I, Inês Pedrosa
Uma da manhã, e a febre de sábado à noite escalda no Oásis Afegão, onde decorre um casamento indiano que inclui sessões contínuas de dança do ventre. Afgan Oasis é o nome do restaurante do Shattuck Plaza Hotel, um americaníssimo hotel de Berkeley que parece ter sido congelado nos anos 50 e esperar que um David Lynch venha filmar os seus corredores de luz enigmática, calhados para o silêncio dos saltos altos sobre as alcatifas de cores comidas pelo tempo. Sim, Lynch não desdenharia este pouso, praticamente o único, ao que me dizem, em toda a Berkeley, que ainda reserva quartos para esses loucos egoístas que são os fumadores. O vício público do fumo reduz-se aqui praticamente aos sem-abrigo - e há centenas deles em Berkeley, como em São Francisco, que fica a quarenta minutos de metropolitano. Passeiam pelas avenidas empurrando os seus apartamentos móveis, carrinhos de supermercado que vão enchendo com mantas velhas, objectos abandonados, restos de comida, aquilo a que os abrigados chamam lixo. Dormem, comem e vivem nos bancos públicos, pedem trocos aos transeuntes, que cumprimentam invariavelmente - soltem-se ou não os trocos - com um sorriso e votos de um muito bom dia: «Have a great day!» Vários deles passam os dias a ler livros, enquanto esperam que o copo se encha de moedas, outros prometem um poema inédito a troco de umas moedas. O mais famoso dá pelo nome politicamente incorrecto de Ape Man, Homem Macaco, e passa os dias no «campus» universitário.
Há dias animava um dos pátios da universidade com um debate sobre política internacional, que esgrimia num francês perfeito com um aluno francófono.
Só os esquilos parecem alheios ao contínuo rumor das conversas de fundo, ziguezagueando entre sandálias e sapatilhas. A Universidade de Berkeley situa-se simultaneamente dentro da cidade e no coração de um imenso parque florestal, com regatos correndo entre carvalhos antiquíssimos, camélias florindo e relvados infinitos. A beleza da paisagem, a qualidade dos edifícios, das piscinas, dos ginásios, das cantinas, do teatro, das múltiplas bibliotecas, da gigantesca cinemateca - com uma programação magnífica e constante - funcionam certamente como vitaminas potentes para a vontade de aprender ou de ensinar. Aterro no auge da campanha eleitoral para a Associação de Estudantes desta universidade que alberga 32 mil alunos de todas as cores, tamanhos e feitios. A Telegraph Avenue vibra de cartazes e manifestações, que não nos transportam ao lume que nesta rua se vivia quotidianamente nas décadas de 60 e 70 porque não há gritos nem insultos, apenas um multiculturalismo publicitário, de bancas ordenadas e slogans eficientes, organizado em torno de espectáculos variados, das danças de salão ao rap.
Esta democracia vigorosa tem como contraponto uma demagogia perigosa; diz-me uma estudante brasileira que quem ouse aventar, ainda que timidamente, que a literatura não é uma planície de operários iguais e igualmente significantes, tem um futuro difícil. Conta-me o caso exemplar do professor Frederick Crews, que arrasou o dogma antidogma através de dois livros de ensaios críticos sobre os populares livros infantis do ursinho Winnie the Pooh («The Pooh Perplex», de 1963, e, recentemente - em 2001 - «The Postmodern Pooh»), ensaios supostamente escritos por sumidades diversas. Terminou a sua vida académica na maior obscuridade, ostracizado pelos colegas (muitos dos quais se terão sentido retratados nas biografias fictícias, no jargão e na lógica dos supostos autores dos ensaios) e quase sem alunos. Desconstruir teoricamente o ursinho Pooh, ainda por cima numa universidade que tem o urso como mascote, é uma provocação. Corri em busca do Pooh Pósmoderno, que é uma bomba de sofisticada e letal ironia, um manifesto-em-acto sobre o beco a que conduz o academismo anti-académico. Quando se transforma a sociologia num corta-relva de valores, acaba-se a chorar a ausência de valores, ou cânones. Nem Berkeley, classificada como a segunda melhor universidade do mundo, e com pergaminhos de excelência no que se refere à investigação em ciências humanas, consegue escapar completamente ao facilitismo integrador das modas do tempo. Embrenhada na leitura, rindo-me sozinha (ninguém estranha, em Berkeley há sempre alguém a falar para as árvores ou a rir-se do vento), sentam-se ao meu lado duas alunas, conversando sobre os trabalhos a apresentar no curso. Aos lamentos de uma sobre a dificuldade de arranjar um tema interessante e de rápida execução, respondia a outra: «O melhor era arranjares uma figura de um país africano e que tenha trabalhos a favor da paz e essas coisas. O ideal era uma mulher, que sempre te abre o campo dos Estudos de Género. Não, a Nobel da Paz não é boa ideia, já está muito batida». A cor castanha da pele desta pragmática conselheira torna-a totalmente insuspeita de incorrecção política.
As dançarinas latino-americanas do paraíso afegão saem finalmente para a noite.
Ouço-lhes os risos enquanto entram no café em frente. Há sempre um café aberto, uma merceariazinha coreana que nunca fecha, uma luz em permanência em qualquer rua de uma cidade americana. Se pararmos a olhar para as placas numa esquina, alguém vai sorrir e perguntar-nos se precisamos de ajuda. Se pusermos um cigarro na boca e começarmos a folhear os bolsos, alguém nos aparecerá no segundo seguinte com um olhar cúmplice e um isqueiro na mão. Se uma mulher entrar sozinha num restaurante dão-lhe uma mesa à janela e servem-na com mimos especiais. Para lá dos valores artísticos, políticos ou religiosos que se tosquiam mais para a direita ou para a esquerda, que se extraviam e se batalham e se esgravatam e voltam a florescer, há esse valor essencial que fez e faz ainda a força e o encanto da América, e que se traduz na capacidade de acolher e aceitar as pessoas tais como são, e de desejar um grande dia a cada uma delas.
Um valor anterior à própria liberdade. Os países ditos socialistas reclamaram-se dele, mas nunca o praticaram. A América pratica-o diariamente: a igualdade.
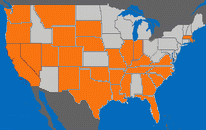


1 Comments:
Está bem escrito... e gostei da maneira como ela terminou o texto (ou tu, porque não sei se o transcreveste na totalidade, hehehe). ;)
Algumas das coisas em que fala, são bem verdade... e é até engraçado pensar nisso!
Enviar um comentário
<< Home